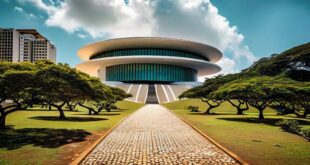De fato, poucos brasileiros conhecem a batalha nos bastidores que quase transformou a Constituição Cidadã num documento conservador. Primeiramente, é preciso entender que figuras ligadas ao regime militar arquitetaram cada detalhe do processo constituinte para manter o status quo.
Em novembro de 1985, o Congresso aprovou a emenda que convocou a Assembleia Constituinte. Consequentemente, iniciou-se uma disputa feroz entre progressistas e remanescentes da ditadura pelo controle da futura Carta Magna.
A Armadilha Montada Pelos Conservadores
Segundo o cientista político Antônio Sérgio Rocha, da Unifesp, as forças do antigo regime definiram três travas estratégicas. Ou seja, a Constituinte seria derivada, congressual e baseada num anteprojeto governamental. Dessa forma, mudanças profundas ficariam praticamente impossíveis.
Além disso, os próprios termos da convocação foram redigidos por políticos oriundos da ditadura. Por exemplo, Célio Borja e Marco Maciel, ambos vinculados ao regime autoritário, moldaram as regras do jogo constitucional.
Cerca de 40% dos Eleitos Vieram da Arena
Certamente, o cenário parecia desolador para os setores democráticos. Nesse sentido, a eleição de 1986 trouxe ao Congresso uma bancada expressiva de ex-apoiadores do autoritarismo. Em outras palavras, o pessimismo dominava as forças progressistas.
A Virada Que Ninguém Esperava
Por outro lado, dois fatores inesperados reverteram essa equação. O deputado Mário Covas assumiu a liderança do PMDB na Constituinte e posicionou progressistas em relatorias estratégicas. Assim sendo, o equilíbrio de forças começou a mudar drasticamente.
Simultaneamente, milhões de cidadãos ocuparam os corredores do Congresso Nacional. Sem dúvida, essa pressão popular surpreendeu os conservadores e redefiniu completamente os rumos constitucionais.
Lição Democrática Que o Brasil Esqueceu
Finalmente, Rocha destaca um aspecto fundamental: mesmo derrotados, os conservadores aceitaram o resultado. Portanto, prevaleceu uma cultura democrática que, segundo o pesquisador, o país perdeu nas últimas décadas diante do extremismo crescente.
 Direto Notícias Imparcial, Transparente e Direto!
Direto Notícias Imparcial, Transparente e Direto!